
Houve uma vez o Punk.Estilo que remou contra a maré que imperava na época, cheia de bandas pretensiosas de rock progressivo e a atitude excessivamente festeira da música pop em voga na época. Estilo que resgatou a simplicidade instrumental e o imediatismo abrasivo daqueles idos anos e acrescentou guitarras distorcidas, fúria subversiva, irreverência e hedonismo. Acompanhando de perto, vinha a New Wave, um punk mais palatável para as grandes massas. Ou melhor, o punk que não assustaria muito os mais velhos.
E no meio de toda aquela efervescência musical de New York, nos subterrâneos, havia os não punks.Segundo eles, o punk não havia revolucionado coisa alguma. Não havia trazido nada de novo. Para eles, riffs de Chuck Berry tocados de forma rápida e anfetamínica continuavam sendo o que sempre foram: apenas música antiga. E não contentes em apenas criticar, eles foram lá armar sua própria revolução. O nome dessa nova onda? Nenhum. Ou como entrou para história, No Wave.
E tal movimento entrou para a história graças ao esforço de um homem: o músico, compositor e produtor britânico Brian Eno, famoso pelo seu trabalho com o Roxy Music e com nomes como David Bowie, Robert Fripp e U2. No final dos anos setenta, havia acabado de produzir um disco da banda Talking Heads, mas permanecia na cidade maravilhado com tanta variação artística em um mesmo lugar. Porém, foi em um bairro sujo e decrépito, repleto de viciados e prédios abandonados de Manhattan que Eno foi achar aqueles jovens insatisfeitos com a vida. E com a música.
Subcultura da cultura punk que sentia náuseas de seus progenitores, a No Wave buscava total liberdade artística, o que dava origem às mais variadas bandas, mas todas com um ponto em comum: a insatisfação com a cena musical da época. Qualquer formato musical pré-definido criado até então era jogado sem mais delongas na lixeira. O que Brian Eno fez foi escolher quatro das melhores bandas do local em sua opinião e produzir quatro canções de cada uma. E assim, em 1978, chegou ao mundo o manifesto oficial daqueles que negavam o punk, negavam o conservadorismo travestido de revolução, e não obstante, negavam sua própria cidade natal. “No New York” era o título do disco.
Quem abre o disco é a banda James Chance And The Contortions. Assim como o pessoal do resto da coletânea, James Chance era uma figura exótica. Um psicótico vocalista e saxofonista fã de Charlie Parker e James Brown que tinha como saudáveis hábitos injetar heroína em cima do palco e brigar com o público.Tocando seu saxofone de maneira desordenada e dissonante combinado com uma cozinha mórbida e riffs maníacos de guitarra, o maluco grita frases violentas e niilistas, contra si mesmo e contra o mundo, imprimindo escrotidão nos esporros de “Dish It Out” e “Flip Your Face”, na gemida, torturante e perturbadora rebordosa de “Jaded” e no quase palatável e pra lá de histérico pesadelo de “I Can’t Stand Myself”. De fazer os moralistas tremerem nas bases antes mesmo de lerem as letras.
A partir daí, o buraco é cada vez mais embaixo. O segundo universo atormentado que chega aos ouvidos é da caótica cantora, poeta, compositora e atriz Lydia Lunch, futura colaboradora de Nick Cave, Sonic Youth e David Lynch, cantando à frente da banda Teenage Jesus And The Jerks. Quanto ao som, bem... O que você espera de uma banda cuja frontwoman falava nas entrevistas abertamente sobre seu vício e apreço por heroína? Nada menos que um som doentio. Talvez seja a única maneira possível de definir a assustadora antimusa. As guitarras de “Burning Rubber” são liberadas aos poucos, como em uma tortura feita por descarga elétrica, enquanto Lydia se acaba no microfone, com passagens do baixo e da bateria montando o mais torturante hardcore. “The Closet” é barulho desnaturado, inconseqüente e claustrofóbico, com a voz cortante de Lunch sendo um complemento perfeito para a muralha sonora tão ruidosa que mais parece feita de areia movediça. “Red Alert” é uma atualização de “L.A. Blues” dos Stooges que só dura trinta segundos. E “I Woke Up Dreaming” fecha o espaço de Lydia em meio à pancadaria arrastada de forma esplêndida, com seu baixo crescente que destoa da bateria hipnótica e da guitarra que mais parece uma trovoada condicionada. Talvez a banda mais autodestrutiva do movimento No Wave.
Antes do Nine Inch Nails, antes do Big Black, existia o Mars. Uma banda de som visionário, que vislumbrava as torturas eletrônicas de Trent Reznor e a sujeira escrota de Steve Albini em um som confuso, cheio de ruídos, bateria frenética e um vocal agudo, desesperado e quase esquizofrênico. Que o digam a perdição sonora de “Helen Forsdale” e a truculência quase desmaiada de “Hairwaves”. E não pense que acabou. A banda abusa novamente na tempestade elétrica e furiosamente discursada de “Tunnel”, com o vocalista Sumner Crane cantando de forma quase vomitada seus murmúrios retardados. A banda encerra sua parte no um minuto e pouco da bad trip marginal “Puerto Rican Ghost”.
A última banda, D.N.A. conta com a liderança de um compatriota nosso: Arto Lindsay, nascido nos Estados Unidos e crescido no Brasil, durante a época da Tropicália e colaborador de David Byrne, Gal Costa e Caetano Veloso. Talvez a banda menos doentia da coletânea, mas ainda assim, totalmente insana e barulhenta. Basicamente nos faz imaginar uma jam de John Cale e Ron Asheton em uma fábrica, com ruídos de máquinas a pleno vapor soando ao fundo, e muitas vezes, na frente dos instrumentos. A agressiva e pirada “Egomaniac’s Kiss” abre espaço para a metralhadora de disparos noise “Lionel”. Daí em diante, ouvimos os vocais chorosos de “Not Moving”, que golpeia o ouvinte de forma mecânica e impiedosa. E tudo acaba em “Size”, que apesar do início quase punk, em poucos segundos já virou uma massa vacilante, feroz e mórbida. O vocal rasgado, berrado e desafinado deixa a música mais não palatável ainda.
Apesar de ter surgido e encontrado seu fim antes mesmo de explodir (cá entre nós... impossível ser reconhecido por um grande público), o movimento No Wave foi um dos mais influentes da história da música do século vinte. Chocante, sem direção definida, mas com uma noção enorme de propósito, a No Wave faz ouvir seu ecos até hoje. Desde os próprios anos setenta, quando Joy Division, Suicide e Pere Ubu apresentavam sonoridades igualmente ousadas, passando pelos anos oitenta, em que foram lembrados por The Birthday Party, Big Black, Jesus And Mary Chain e Sonic Youth e chegando aos dias de hoje, onde ouvem-se seus rastros em Yeah Yeah Yeahs, Trail Of Dead e Flaming Lips.
E no meio de toda aquela efervescência musical de New York, nos subterrâneos, havia os não punks.Segundo eles, o punk não havia revolucionado coisa alguma. Não havia trazido nada de novo. Para eles, riffs de Chuck Berry tocados de forma rápida e anfetamínica continuavam sendo o que sempre foram: apenas música antiga. E não contentes em apenas criticar, eles foram lá armar sua própria revolução. O nome dessa nova onda? Nenhum. Ou como entrou para história, No Wave.
E tal movimento entrou para a história graças ao esforço de um homem: o músico, compositor e produtor britânico Brian Eno, famoso pelo seu trabalho com o Roxy Music e com nomes como David Bowie, Robert Fripp e U2. No final dos anos setenta, havia acabado de produzir um disco da banda Talking Heads, mas permanecia na cidade maravilhado com tanta variação artística em um mesmo lugar. Porém, foi em um bairro sujo e decrépito, repleto de viciados e prédios abandonados de Manhattan que Eno foi achar aqueles jovens insatisfeitos com a vida. E com a música.
Subcultura da cultura punk que sentia náuseas de seus progenitores, a No Wave buscava total liberdade artística, o que dava origem às mais variadas bandas, mas todas com um ponto em comum: a insatisfação com a cena musical da época. Qualquer formato musical pré-definido criado até então era jogado sem mais delongas na lixeira. O que Brian Eno fez foi escolher quatro das melhores bandas do local em sua opinião e produzir quatro canções de cada uma. E assim, em 1978, chegou ao mundo o manifesto oficial daqueles que negavam o punk, negavam o conservadorismo travestido de revolução, e não obstante, negavam sua própria cidade natal. “No New York” era o título do disco.
Quem abre o disco é a banda James Chance And The Contortions. Assim como o pessoal do resto da coletânea, James Chance era uma figura exótica. Um psicótico vocalista e saxofonista fã de Charlie Parker e James Brown que tinha como saudáveis hábitos injetar heroína em cima do palco e brigar com o público.Tocando seu saxofone de maneira desordenada e dissonante combinado com uma cozinha mórbida e riffs maníacos de guitarra, o maluco grita frases violentas e niilistas, contra si mesmo e contra o mundo, imprimindo escrotidão nos esporros de “Dish It Out” e “Flip Your Face”, na gemida, torturante e perturbadora rebordosa de “Jaded” e no quase palatável e pra lá de histérico pesadelo de “I Can’t Stand Myself”. De fazer os moralistas tremerem nas bases antes mesmo de lerem as letras.
A partir daí, o buraco é cada vez mais embaixo. O segundo universo atormentado que chega aos ouvidos é da caótica cantora, poeta, compositora e atriz Lydia Lunch, futura colaboradora de Nick Cave, Sonic Youth e David Lynch, cantando à frente da banda Teenage Jesus And The Jerks. Quanto ao som, bem... O que você espera de uma banda cuja frontwoman falava nas entrevistas abertamente sobre seu vício e apreço por heroína? Nada menos que um som doentio. Talvez seja a única maneira possível de definir a assustadora antimusa. As guitarras de “Burning Rubber” são liberadas aos poucos, como em uma tortura feita por descarga elétrica, enquanto Lydia se acaba no microfone, com passagens do baixo e da bateria montando o mais torturante hardcore. “The Closet” é barulho desnaturado, inconseqüente e claustrofóbico, com a voz cortante de Lunch sendo um complemento perfeito para a muralha sonora tão ruidosa que mais parece feita de areia movediça. “Red Alert” é uma atualização de “L.A. Blues” dos Stooges que só dura trinta segundos. E “I Woke Up Dreaming” fecha o espaço de Lydia em meio à pancadaria arrastada de forma esplêndida, com seu baixo crescente que destoa da bateria hipnótica e da guitarra que mais parece uma trovoada condicionada. Talvez a banda mais autodestrutiva do movimento No Wave.
Antes do Nine Inch Nails, antes do Big Black, existia o Mars. Uma banda de som visionário, que vislumbrava as torturas eletrônicas de Trent Reznor e a sujeira escrota de Steve Albini em um som confuso, cheio de ruídos, bateria frenética e um vocal agudo, desesperado e quase esquizofrênico. Que o digam a perdição sonora de “Helen Forsdale” e a truculência quase desmaiada de “Hairwaves”. E não pense que acabou. A banda abusa novamente na tempestade elétrica e furiosamente discursada de “Tunnel”, com o vocalista Sumner Crane cantando de forma quase vomitada seus murmúrios retardados. A banda encerra sua parte no um minuto e pouco da bad trip marginal “Puerto Rican Ghost”.
A última banda, D.N.A. conta com a liderança de um compatriota nosso: Arto Lindsay, nascido nos Estados Unidos e crescido no Brasil, durante a época da Tropicália e colaborador de David Byrne, Gal Costa e Caetano Veloso. Talvez a banda menos doentia da coletânea, mas ainda assim, totalmente insana e barulhenta. Basicamente nos faz imaginar uma jam de John Cale e Ron Asheton em uma fábrica, com ruídos de máquinas a pleno vapor soando ao fundo, e muitas vezes, na frente dos instrumentos. A agressiva e pirada “Egomaniac’s Kiss” abre espaço para a metralhadora de disparos noise “Lionel”. Daí em diante, ouvimos os vocais chorosos de “Not Moving”, que golpeia o ouvinte de forma mecânica e impiedosa. E tudo acaba em “Size”, que apesar do início quase punk, em poucos segundos já virou uma massa vacilante, feroz e mórbida. O vocal rasgado, berrado e desafinado deixa a música mais não palatável ainda.
Apesar de ter surgido e encontrado seu fim antes mesmo de explodir (cá entre nós... impossível ser reconhecido por um grande público), o movimento No Wave foi um dos mais influentes da história da música do século vinte. Chocante, sem direção definida, mas com uma noção enorme de propósito, a No Wave faz ouvir seu ecos até hoje. Desde os próprios anos setenta, quando Joy Division, Suicide e Pere Ubu apresentavam sonoridades igualmente ousadas, passando pelos anos oitenta, em que foram lembrados por The Birthday Party, Big Black, Jesus And Mary Chain e Sonic Youth e chegando aos dias de hoje, onde ouvem-se seus rastros em Yeah Yeah Yeahs, Trail Of Dead e Flaming Lips.
Para quem quer noção do que é realmente arte de vanguarda, essa coletânea é indispensável. Tão indispensável quanto “Tropicália ou Panis Et Circenses” e “Nuggets”. A falta do medo de errar, a ausência de coleiras, tudo isso regado à muita heroína, auto-comiseração e um ruído inovador. E haja colhões de ridicularizar o principal ridicularizador da época.
Marcadores: Resenhas
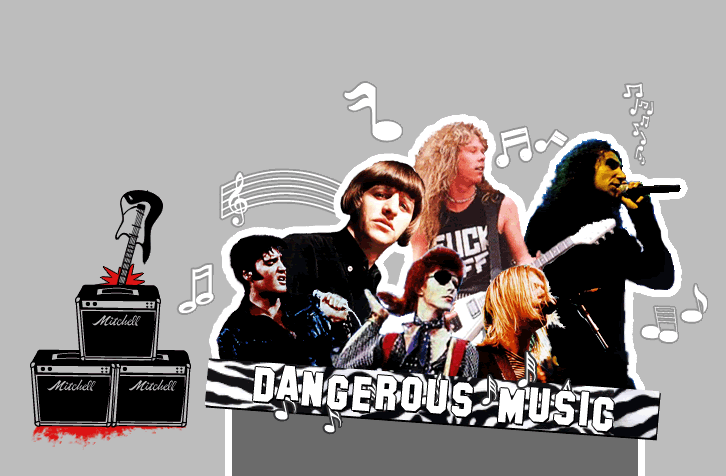

2 Comments:
no wave foi a maior onda. se o mundo fosse virado ao contrário - e por que não? - hoje existiriam bandas de pop no wave.
a revolução é o que queremos que seja.
acho que essa resenha explicou isso melhor que eu.
Ridicularizar o ridículo me parece ser bem interessante.
Postar um comentário
<< Home