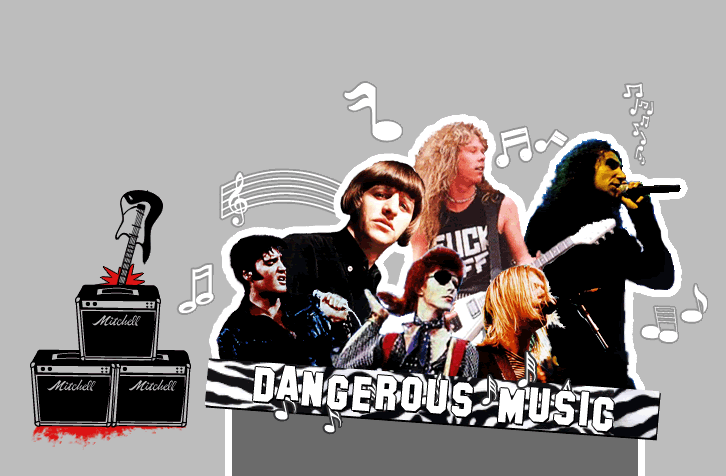terça-feira, agosto 28, 2007
Feios, Sujos e Malvados: O Som de Garagem dos Anos 60
 Um exército de caras vestidos de preto ou usando sempre os mesmos ternos rotos e esfarrapados, em cima de um palco, com instrumentos vagabundos ou feitos em casa com sucata, efeitos fuzz e distorções rugindo da maneira mais cortante o possível e vocalistas gritando ao microfone da mais completa selvageria até a demência mais amedrontadora existente. Protopunks, protopsicodélicos, protometaleiros, protohardroqueiros, e mais um monte de “protos”... Essas eram as bandas de garagem dos anos 60. Literalmente centenas de grupos de garotos chapados de anfetamina e ácido lisérgico, com a sonoridade mais tosca o possível, os equipamentos e instrumentos caindo aos pedaços, falta de informação técnica que lhes concedia um talento único e mais uma porrada de dificuldades e limitações fez com que jovens garotos brancos americanos pudessem provar que os moleques ingleses não eram os únicos no mundo. E se na terra da Rainha, mesmo os mais pesados e/ou brutos como The Kinks, The Who e The Troggs viam a luz do sucesso, muitos dos garotos americanos contrariavam suas conservadoras famílias, tocavam para algumas centenas de pessoas, gravavam alguns discos e sumiam nas areias do tempo antes mesmo da década acabar, com seus ex-integrantes rumando para profissões não tão radicais quanto a de músico de rock... Mas vamos chutar o leitor para um tempo mais passado ainda. Nos anos 50, um músico e compositor de voz grave e produtividade espantosa chamado Richard Berry, após ganhar o pão nosso de cada dia compondo baladas, teve vontade de fazer algo diferente. A idéia surgiu em 1955, após ouvir o calipso “ El Loca Cha Cha” de René Touzet. Então, entre uma sessão e outra que gravava com os artistas de sua gravadora, escreveu uma canção em um guardanapo de papel, um rythm & blues safado, de letra misteriosa, homenageando uma garota que conheceu na beira do cais, e após algum romance, teve que sair de fininho. O nome? “ Louie, Louie”.  Quase dez anos depois, em 1964, uma banda pegou esse sugestivo blues e sem mudar uma palavra na letra, verteu num rock de garagem tosquíssimo e indecente, onde o vocal desafinava excitado seu tesão pela mulherada à beira do cais. Com isso, os Kingsmen transformaram a música no provável maior hino do movimento garageiro americano. Ainda na região norte, outros que atraíam as atenções para si eram bandas como The Sonics e The Monks. Duas bandas tão secas, cruas e primárias, com integrantes problemáticos vestidos de maneiras exóticas, que acabaram tornando-se influência consciente ou inconsciente da maioria das bandas que nos dias de hoje puxam o título de “som de garagem” para si. Atravessando o país da bandeira de estrelas e listras, o choque é contínuo. Como não destacar o surf rock demente dos Trashmen? Ou o Seeds, banda que nos faz lembrar de um bando de homens das cavernas chapados, e que foi a primeira a dispensar o uso de baixista? Ou ainda a truculência exaltada por Lester Bangs do Count Five? E claro, não podemos nos esquecer de Detroit e New York, locais que foram sedes para os estandartes principais do punk rock, grunge e todos os movimentos alternativos subseqüentes: Stooges, MC5 e Velvet Underground. Há também o Iguanas, primeira banda de Iggy Pop, onde o mesmo tocava bateria, uma das bandas mais populares da cena da cidade do motor, que misturava surf rock e Beatles para gravar seu repertório; as canções-jams amedrontadoras dos novaiorquinos do Blue Magoos; as insanidades psicodélicas e texanas dos 13th Floor Elevators; os Electric Prunes que se tornaram uma das bandas mais conhecidas da cena garageira ao ter uma música incluída no filme " Easy Rider"; os Standells no mesmo barco de sucesso dos Electric Prunes, conseguindo fazer algumas das músicas mais ouvidas do ano, mas ainda assim sumindo sem deixar notícia ou lembrança; o humor histérico e suburbano dos Barbarians (que para completar, tinham um baterista com uma mão só, que usava um gancho no lugar do outro!); e os embriões do ZZ Top (Moving Sidewalks), Grand Funk Railroad (Terry And The Packs), Blue Cheer (Oxford Circle), a formação da banda de suporte de Ted Nugent, os Amboy Dukes, e mais uma tonelada de bandas... É extremamente recomendável procurar pela coletânea “ Nuggets”, pois até o início dos anos 70, o rock americano era considerado coisa de gente criminosa, pervertida e sem nenhum valor artístico; essa coletânea organizada por Lenny Kaye (jornalista e guitarrista do Patti Smith Group) compilou em uma coletânea dupla os maiores clássicos de garagem dos anos 60. O som de garagem enfim tomou o mundo de assalto e mostrou que as melhores obras de arte surgem quando entram em contato com a realidade e abandonam a erudição – ou seja, tornam-se marginais, primitivas, violentas, dispostas a ferir os sentidos e de transmitir muita sacanagem e todo o urbanismo dos nossos dias. Para adentrar o mundo das bandas de garagem, aqui vai uma pequena lista para que o ouvinte não se assuste com o cheiro nauseante de óleo, a estética nem um pouco convencional, o clima claustrofóbico, os sons guturais e horripilantes e o espírito libertário de uma época – mais preocupados em nos fazer pensar nas ruas de nossas cidades do que guerras em países distantes e discursos de paz-e-amor : The Kingsmen - Louie, Louie The Sonics - The Witch The Monks - Shut Up The Seeds - Can't Seem To Make You Mine The Trashmen - Surfin' Bird Count Five - Psychotic Reaction The Blue Magoos - We Ain't Got Nothin' Yet Electric Prunes - I Had Too Much To Dream (Last Night) 13th Floor Elevators - You're Gonna Miss Me The Standells - Little Sally Tease The Iguanas - Mona Barbarians - Are You A Boy Or Are You A Girl  Marcadores: Especiais
posted by billy shears at 12:40 AM
|

quinta-feira, agosto 16, 2007
Paul McCartney & Wings - Band On The Run
 Paul McCartney é um gênio da música pop. Essa afirmação quase tão velha quanto o próprio é incontestável, após tantos anos de carreira solo, a carreira brilhante nos Beatles, as inúmeras críticas em revistas conceituadas e prêmios em eventos de fama mundial, a composição de músicas que mudaram a cara do mundo com ou sem seus amigos de Liverpool... E, claro, com os igualmente geniais Wings.
Por dez anos, de 1971 a 1981, Paul provou que o Wings não eram apenas uma banda feita para matar sua saudade dos palcos, atividade esta interrompida quando os Beatles realizavam discos tão intricados, inovadores, com tantos instrumentos e feitos exóticos, que as bolachas tornavam-se impossíveis de serem reproduzidas ao vivo. Mais que um capricho ou projeto do ex-Beatle, era uma nova banda, com todas as letras merecidas.
Enquanto John Lennon tornava-se o herói da classe trabalhadora junto a Plastic Ono Band, usando sua fama para tentar fazer as pessoas refletirem e George Harrison ia cada vez mais fundo na sua admiração pelo lado oriental do nosso velho globo terrestre em discos como o perfeito "All Things Must Pass" e o live "The Concert For Bangladesh" ao lado de Ravi Shankar, Paul não atravessava sua melhor fase com crítica e público no que se dizia respeito sobre sua carreira-solo. Claro que Paul ainda vendia consideravelmente bem, mas era um caso em que um nome famoso ajudava mais do que tudo... Mesmo nos primeiros discos do Wings, Paul parecia que não iria chegar muito longe. Mas Paul tem uma característica que os Rolling Stones também possuem: sempre que você acha que um deles não está tão bom quanto antigamente, que a criatividade está acabando após tantos anos de carreira, que eles deviam se preocupar mais em fazer shows "greatest hits", que o som deles já é coisa do passado... Eles simplesmente tomam aquele chá inglês que tem um efeito especial na cabeça dos músicos da terra da Rainha... E soltam um disco que crítica e público irão idolatrar pelos meses seguintes, até o próximo disco.
E dessa vez não foi diferente. Após ser criticado e até mesmo banido pelo conteúdo extremamente político da canção "Give Ireland Back To Irish" e soltar mais duas canções mais felizes e juvenis - "Mary Had A Little Lamb" e "Hi Hi Hi" (que também foram banidas por causa de conotações sexuais e insinuações ao uso de drogas), Paul acerta o passo no terceiro disco da sua nova banda. E após tanto tempo longe das paradas de sucesso, tanto tempo sem ter um compacto entre os três primeiros, depois de ser banido três vezes das rádios, Paul, sua banda e algumas celebridades inglesas feito o ator Christopher Lee e o jornalista Michael Parkinson, entre outros, vestiram-se de negro e posaram para uma foto de capa como se estivessem fugindo da polícia. E o nome do disco? "Band On The Run"!
Cantando e tocando baixo, Paul era apoiado pela sua esposa Linda nos vocais e teclados e o guitarrista e backing vocal, ex-Moody Blues, Denny Laine, que formavam o núcleo principal da banda, acompanhados pelo guitarrista Henry McCullough e o baterista Denny Seiwell. O resultado final não tem muito segredo: em "Band On The Run", lançado em 1973, o ouvinte ouvirá música pop, direta, simples e bem-feita, com adição de orquestrações, chocalhos, saxofones, percussões... Um disco que é familiar e resfrescante, divertido e emocionante... Algo tão humano e tocante, que só mesmo uma banda com Sir Paul nas suas fileiras conseguiria compor.
O disco abre com a faixa título, "Band On The Run", introduzida por melódicas cordas e Paul lamenta por estar atrás das grades. A introdução da bateria faz a canção engedrar em um ritmo cada vez mais forte, até as doces reviravoltas virarem um pop animado e feliz, de onde não desce mais, afirmando que fugiram da cadeia, gritando "A banda em fuga, a banda em fuga! E o carcereiro e o marinheiro Sam estavam procurando por todo mundo... pela banda em fuga!".
"Jet" entra com um riff grandioso, numa canção que fala sobre um labrador negro que Paul e Linda tinham há mais de 30 anos atrás, num empolgante refrão onde toda a banda grita o nome da canção, e onde mesmo com o ritmo mais pesado, Paul consegue soar cativante e cheio de emoção, como na ponte em que Paul canta "Quero Jet sempre me amando!" e "Jet achava que o major fosse uma pequena senhora sufragista". Perfeita em todos os sentidos, nos refrões, vocalizações, reviravoltas... Macca definitivamente não acerta na mosca. O que ele faz é fuzilar o pobre inseto...
Pisando no freio, Paul nos entrega de bandeja "Bluebird", belíssima e relaxante balada com uma das letras mais puras e românticas escritas por Paul, já começando em versos como "Tarde da noite quando o vento estiver parado/Eu irei voando até sua porta/E você saberá para que serve o amor/Sou um pássaro azul", onde também convida a pessoa por quem está apaixonado a virar um pássaro azul também. O clima é tão romântico que a canção tem a adição de instrumentos de sopro, isso sem contar o refrão com vocalizações quase inocentes.
"Mrs. Vanderbilt", canção de ritmo forte e cordas insistentes, apresenta vocais inusitados, cheios de coro de "ho-hey-ho" e uma letra que critica a neurose das pessoas na grande cidade. "Lá na selva, vivendo em uma tenda, você não precisa de dinheiro, você não precisa pagar aluguel, você sequer conhece tempo, mas você não se importa", dispara Paul acidamente. E se a pessoa tanto reclama de sua vida, mas não está disposta a largá-la, Macca não quer que você fique enchendo o saco famoso, milionário e despreocupado (e também nobre) dele...
Uma das melhores canções já compostas por Paul, essa é "Let Me Roll It". Redonda, viciante e cheia de guitarras, a música tem a polêmica de ter uma estrutura muito parecida com "How Do You Sleep?", música da carreira solo de John Lennon. Paul canta da sua inabilidade de expressar seus sentimentos, mas que queria fazer as pazes com seu amigo Lennon de qualquer maneira. "Não posso te contar como eu me sinto/Meu coração é como uma roda/Deixe-me rolá-lo até você!". A referência foi tão boa que a guerra pela música e pela impresa de Macca e John parou pouco após.
"Mamunia", uma palavra árabe que significa "paraíso seguro" e também nome de um hotel onde Paul se hospedou em Marrakesh, é a canção mais árabe que um inglês poderia ter escrito. Enquanto balada nos versos, a música rapidamente deságua no refrão, ganhando batidas fortes, melodias ensolaradas e um refrão para lá de relaxante. A paz de espírito transmitida por letra e música são impressionantes. "Na próxima vez que você ver nuvens de chuva em L.A., não reclame. Está chovendo para mim e para você."
O que dá raiva em álbuns perfeitos é que, por mais que a música anterior seja excelente e capaz de mudar vidas, a seguinte também é capaz de repetir o feito. "No Words" é uma canção em tom crescente, cheia de orquestrações, composta em conjunto por Paul e Denny Laine. Macca canta, introspectivamente, sobre o amor eliminar a necessidade de palavras.
O ator Dustin Hoffman (de "Perdidos na Noite", "Papillon" e "Todos Os Homens do Presidente") sugeriu que Paul composse sobre a morte do lendário pintor Pablo Picasso. O resultado foi "Picasso's Last Words (Drink To Me)". Uma epopéia de quase seis minutos, com a participação de Ginger Baker (ex-Cream e Blind Faith) nos chocalhos, com dois empregados dele sacudindo um balde com carvão e lindas orquestrações, numa música cheia de reviravoltas, barulhos de zoeira, e uma letra muito bem-humorada, ao estilo da fase rosa de Picasso, no cativante refrão: "Bebam por mim/Bebam pela minha saúde/Vocês sabem, eu não posso beber mais!". Só para aumentar ainda mais o clima de diversão, os refrãos de "Jet" e "Mrs. Vanderbilt" são introduzidos de surpresa no meio da música. Uma das mais criativas do ex-Beatle.
Só o mais insensível não conseguiria dar pelo menos um sorrisinho nessa que é a última canção do álbum, "Nineteen Hundred And Eighty Five". Romanticamente, Macca faz suas previsões para 1985, falando que não acredita por estar vivo e vendo tudo acontecer, e feliz de ter uma pessoa que ele gosta ao seu lado. Só mesmo o autor de "Love Me Do" e "Yesterday" para nos fazer sorrir por inocência e romantismo em uma decada dominada por Iggy Pop, Johnny Thunders, Robert Plant e outros comedores junkies de plantão... O disco acaba em tom grandiloqüente, e eles continuam fugindo, e cantando o refrão da música que abre o disco.
Esse disco é uma das provas definitivas que permitem Macca receber tanto crédito por tudo o que fez. Genialidade pop em torrentes em uma época em que o mau mocismo imperava. Paul não deixou-se abater. Ele sabia que, enquanto houvessem corações sensíveis, ele ainda teria gente para tocar os sentimentos. Não deu outra. Foi o disco mais vendido dos Wings e um dos maiores sucessos da discografia de Paul, superada apenas, é claro, pela sua época nos Beatles.
Um sorriso, um aperto de mão, um beijo, uma paixão. Forty minutes of fun? Baaaand on the ruuuun... Marcadores: Resenhas
posted by billy shears at 12:17 AM
|

quarta-feira, agosto 08, 2007
The Velvet Underground - White Light/White Heat
 Existem discos realmente dementes. Existe o " Fun House" dos Stooges, que começa rolando abaixo em " Down On The Street" e acaba no apocalipse de " L.A. Blues". Existem os berros maníacos e horripilantes sobre um instrumental caótico do primeiro disco auto-entitulado do Suicide. O Fantomas de Mike Patton e sua discografia nonsense. Mas não há competição; quando se fala de demência, dos instintos mais baixos e imorais do ser humano sendo convertidos em música, existe apenas um disco para representar tudo isso. " White Light/White Heat". A banda não poderia ser outra: The Velvet Underground. Para os fãs, as figuras já são bem conhecidas. Estão lá todo o cinismo, sarcasmo e a postura abertamente pervertida e transgressora do vocalista e guitarrista Lou Reed, a psicopatia musical tirada do baixo, das violas, teclados, arranjos e vocais de John Cale, e fazendo companhia aos dois gênios, a cozinha suja e musicalmente primária do baixista/guitarrista Sterling Morrison e da baterista Maureen Tucker. Sem Nico, sem Andy Warhol, começando a se desfragmentar totalmente. O quarteto mais famigerado de New York, em 1968, um ano depois de chocar a todos com seu primeiro LP, só provou que com eles, o buraco era mais embaixo. Em canções distorcidas, guiadas por feedback, quase todas elas contendo momentos puramente experimentais e avant-garde.Mesmo em anos de puro experimentalismo, a banda conseguia ser e continua sendo pura blasfêmia aos ouvidos humanos. Já disse quando fiz a resenha do primeiro álbum; em todos os aspectos, era uma banda no mínimo diferente para a época. Não é folk, não é mod, não é mersey beat, não é hard rock, não é rock psicodélico. É simplesmente indefinível – uma profusão de elementos surgem e são tragados como se estivéssemos no meio de um furacão em movimento. Realmente não são todos os preparados para ouvir um disco tão marginal. É como se o diretor italiano Pier Paolo Pasolini resolvesse tocar Rock and Roll. Se fosse lançado hoje, a crítica tomaria o disco por pelo menos ousado e inventivo; imagine só há quase quarenta anos atrás... O disco começa roqueiro até, com a faixa título “ White Light/White Heat”, com a banda cantando repetidamente o nome da canção, com um piano uniforme e rápido acompanhando a canção, enquanto Lou Reed trata de uma experiência com luz branca, provavelmente vinda de uma viagem de anfetamina que o mesmo teve. “Todo mundo vai fazer isso toda semana/Gaguejando aos berros, todos vão matar suas mães/Aqui vem ela, aqui vem ela, todos conseguem, vai me fazer correr, faça/Mais alto”, diz Reed, antes da canção explodir em um solo doentio que a encerra. De um ineditismo surpreendente. Não sei quantas vezes “ The Gift” possa ter sido chamada de lixo, chatice, experimentação desnecessária... Afinal, são oito minutos de John Cale recitando uma história escrita por Lou Reed na época do colegial sobre o instrumental distorcido e psicótico da banda. O excêntrico músico conta a história de Waldo Jeffers, um garoto que atingiu seu limite no que se trata de solidão ao ter um relacionamento de longa distância, e resolve se dar de presente para a própria namorada. Marsha, a infiel namorada, encontrou outro cara que transa melhor, e ao receber o presente, não deixa as amigas abrirem, pega um cortador no porão e... Corta a caixa. A caixa onde dentro estava a cabeça de Waldo... Tal história só poderia ter saído da cabeça de quem, mesmo? Dois acordes numa viola elétrica distorcida, linhas vocais arrastadas, um fundo tenso e sempre à beira de explodir que gera contraste imenso com o resto. Tal música ganha o nome de “ Lady’s Godiva Operation”. Uma operação de mudança de sexo é narrada cheia de humor negro, com Cale e Reed repartindo os vocais, enquanto os instrumentistas fazem ruídos com a boca para simular instrumentos hospitalares em pleno funcionamento quando a música avança para o seu final. Um sonho de uma vida, que ao que parece, acaba em uma morte horrível e sangrenta. Aqui está um dos hits do disco: “ Here She Comes Now”, a mais curta do álbum, originalmente feita para Nico cantar, mas na época, a parceria entre a loira e o Velvet já havia acabado; que adentra com ares até melódicos, e Reed entrar com a letra cheia de palavras repetidas, o que dá espaço para que o instrumental cresça por trás, certas vezes com o vocal sendo quase engolido, em uma letra sobre uma mulher onipresente, descrita com certo desprezo pela voz de Lou. “ I Heard Her Call My Name” traz guitarras que apenas Jimi Hendrix conseguiu fazer algo parecido, tão malditamente distorcido e com o vocal rouco e desafiador de Lou Reed imposto no limite, mas no contexto da banda mais maldita de todas, a música ganha contornos pestilentos ao invés de lisérgicos; a guitarra ruge, guincha, enquanto a letra nem um pouco sutil fala sobre necrofilia; “Eu sei que se importa comigo/Eu ouvi ela me chamando/E eu sei que ela morreu faz muito tempo/Ela não continua a mesma”. Por vezes, o vocal é ininteligível, compartilhando espaço com um solo que só faz piorar a situação; algo que muitos chamariam nem de tortura musical, mas de barulho. E aqui chegamos na sexta e última canção. “ Sister Ray”. Definitivamente, a música mais assustadora dos anos 60. Não tem para os The Doors, para os Stooges, para Hendrix, nem para o primeiro disco do Velvet, que por si só, já era um ultraje sonoro. Homossexualismo, transexualismo, assassinato, violência, uso abusivo de drogas. Drag queens levam marinheiros para orgias, esses rapazes são mortos, e nem a polícia parece se importar. A moral e os bons costumes, qualquer senso de humanidade, todas as religiões erigidas até então não significam absolutamente porra nenhuma para Lou Reed. A música não significa nada para John Cale. É por isso que todos os instrumentos utilizados no álbum aqui são levados ao limite da exaustão, construindo um verdadeiro circo de horrores escrotos, por isso que Lou Reed canta cuspindo e vociferando as palavras, sem se importar se você está gostando ou não. A sociedade que se foda, os bilhões de anos da Terra que se fodam, isso aqui é a natureza humana, a mais podre de todas que já existiu, capaz de perder qualquer consideração alheia a partir do momento que assume o controle das outras. Não são assassinos seriais matando os próprios pais, não são Joe’s vingativos, tampouco soldados no Vietnã procurando e destruindo – é em plena cidade grande, cidadãos que vemos todos os dias, matando uns aos outros em meio ao sexo, algo que deveria ser prazeroso, mas se derrete em gozo, sangue e lágrimas. A bateria marcha, a distorção entra feita uma broca nos seus ouvidos, o baixo quer te matar por asfixia e Lou Reed ri e cospe em você. Você é um em bilhões. Você vai ter o mesmo destino dos personagens da música se estiver no lugar errado e na hora errada. Não importa quantas informações preciosas existam na sua preciosa cabecinha. Uma bala e toda essa poesia transforma-se em miolos espalhados pelo chão, sangue sujando a parede e o fim de mais uma formiga Homo Sapiens efêmera. Isso é “ Sister Ray”. A reflexão de que uma vida (a sua, a minha, qualquer uma) não é nada. A filosofia máxima do fim. Luz branca. Calor branco. Ruído branco. Você entende o que quer dizer demência? Não com essas linhas, certeza absoluta. Não existem letras, algarismos, medidas ou símbolos para definir uma música tão forte, transgressora e absurda. Diante do Velvet Underground, a cultura ocidental não faz sentido. A sociedade americana não absorveu ou capitalizou o disco – ignorou-o com todas as forças, como um fantasma que mora ao lado. O tempo passou, e ficamos mais conservadores. Aparentemente, a não-mensagem de Lou Reed foi pouco compreendida. Mas como visto acima, isso não significa lá muita coisa...
posted by billy shears at 9:52 PM
|

domingo, agosto 05, 2007
The Rolling Stones - Sticky Fingers
 É até chato escrever sobre os Rolling Stones. Quer dizer, desde o surgimento da banda em 1962 e o primeiro LP em 1964 vêm falando, discutindo e escrevendo resenhas, livros, compêndios e enfim, parágrafos, parágrafos e mais parágrafos sobre os Glimmer Twins (Mick-Keith) e seus comparsas. Assim, como escrever algum elogio sem evitar cair em clichês completos? Atitude corajosa esta de escrever sobre música... Isso pode acabar sendo uma resenha como as outras, mas sabe como é... É apenas resenhar, mas eu gosto disso...
Pois bem, os Rolling Stones não foram chamados de “versão bad boy” dos Beatles por um simples motivo – diferente dos garotos de Liverpool, a banda sempre foi afeita a temas mais sexuais, tristes, cruéis e até mesmo ultrajantes. Conferindo os primeiros hits, temos “It’s All Over Now” e “The Last Time”, que falam de separação; “(I Can Get No) Satisfaction” e sua crítica ao sistema capitalista; “Paint It, Black”, sobre ver tudo negro por estar sem o seu amor; as letras urbanas de “Jumpin’ Jack Flash” e “Street Fighting Man”; a melancolia latente de “You Can’t Always Get What You Want”; e por aí vai. Enquanto isso, os Beatles eram mais lembrados por um romantismo doce e um pop ensolorado, ainda que afirmar isso de forma generalizante não corresponde à realidade.
Os Stones não atravessavam seu melhor período em termos econômicos e pessoais – naqueles primeiros anos da década de 70, quando a banda saiu da categoria de antagonistas à sombra dos FabFour e se afirmou musicalmente como uma banda de respeito – foi a época dos conflitos contratuais para sair da Decca, já que estavam insatisfeitos com o empresário Allen Klein, que dava mais importância ao seu contrato com os Beatles do que com os Stones. Tal ruptura fez os Stones moverem-se para a gravadora Atlantic e abrir o selo Rolling Stones Records, ainda que a custo de Allen ficar com os direitos autorais e royalties de todas as músicas compostas até 1970.
A perda do guitarrista Brian Jones ainda era algo recente, a banda ainda vinha se acostumando com o novo guitarrista Mick Taylor, egresso da banda John Mayall And The Bluesbreakers, Mick Jagger separava-se da cantora Marianne Faithfull para começar seu relacionamento com Bianca Perez Moreno de Macías, ativista social e advogada de direitos humanos. Keith Richards se afundava nas drogas com sua esposa Anita Pallenberg, e o trágico festival de Altamont, o ‘Woodstock sem policiais’, onde um jovem que apontou uma arma para o palco com a intenção de matar Mick Jagger foi assassinado pelos Hell’s Angels contratados como seguranças. Os impostos ingleses tornam-se tão altos e a perseguição da polícia tão acirrada que os rapazes se vêem obrigados a se mudar para a França.
O custo de todos esses prejuízos obrigou o Rolling Stones a realizarem uma lucrativa excursão americana, lançaram um disco ao vivo (o estupendo “Get Yer Ya-Ya’s Out”) e finalmente lançarem um novo disco de músicas inéditas, o primeiro a trazer a participação efetiva de Mick Taylor como guitarrista (já que ele apenas gravou overdubs para as músicas “Live With Me” e “Country Honk”, do disco “Let It Bleed”), o primeiro dos Rolling Stones por uma nova gravadora, e somando a tudo isso, uma capa do genial Andy Warhol. A data em que foi parido, 1971. Os pais, Mick Jagger no vocal, Keith Richards e Mick Taylor nas guitarras, Bill Wyman no baixo, Charlie Watts na bateria e vários músicos de apoio, Stones honorários. O nome da criança, “Sticky Fingers”. O disco mais chapado e um dos mais marginais da carreira da banda. Nenhuma das dez faixas fala de um tema mais sutil – todas estão, direta ou indiretamente, ligadas às drogas.
O disco já começa mostrando ao que veio: cansados de todos esses problemas que os deixavam aborrecidos, o indestrutível Keith dispara um de seus riffs mais marcantes junto a Mick Taylor, em uma tremenda fome de guitarra, e o eterno sexto stone Ian Stewart toca piano da maneira mais empolgante o possível. Jagger começa a cantar uma letra chutando o saco de mil tabus, falando sobre escravidão, sexo interracial e principalmente, uso (e abuso) de heroína. Heroína esta, que ao ser misturada com éter e adquirindo uma coloração marrom, deu inspiração ao nome da música: “Brown Sugar”. Um dos maiores clássicos da banda, obra prima verdadeiramente marginal. Tente não cantar com Mick J. o refrão “Açúcar marrom/Como você tem um gosto tão bom?”, por mais que você odeie qualquer entorpecente. E como se não bastasse, tem o maravilhoso saxofone de Bobby Keys solando furioso. Perfeita em todos os sentidos, do primeiro ao último segundo. Um literal arraso.
“Sway” entra com um riff de guitarra desafiador que logo se torna mais melódico, abrindo espaço para Jagger cantar em um ritmo mais cadenciado, até desembocar no maravilhoso refrão e suas hipnotizantes reviravoltas, em uma música que versa sobre o quanto drogas podem deixar alguém mal, com o eu-lírico falando diretamente com os narcóticos, que o dominaram totalmente; Mick Taylor bota para foder com dois solos de cair o queixo, deixando o ouvinte boquiaberto ao solar primeiro ao estilo bottleneck (deslizando uma garrafa sobre as cordas), e depois encerrando a canção com o que podemos facilmente chamar de um dos dez melhores e mais marcantes solos da história do Rock.
A canção número 334 na lista de “500 maiores canções de todos os tempos” pela Rolling Stone. Essa é a balada “Wild Horses”, onde tudo é perfeito, os arranjos emocionantes, um piano terno e Mick Jagger no auge do seu potencial interpretativo. A letra foi escrita após Marianne Faithfull consumir uma quantidade excessiva de heroína, quase morrer em decorrência de uma overdose, e ao ver um preocupado Jagger ao lado de sua cama de hospital, dizer: “Cavalos selvagens não conseguiriam me carregar embora”, que acabou se tornando o refrão da música. Uma letra um tanto poética e realista sobre perdas, dificuldades e tristezas, fazendo da mesma um dos melhores e mais simples tratados sobre relacionamentos. Aí que você vê como escrever sobre música é difícil... Na opinião do gringo que listou a música, ela merece um 334º lugar. Na minha, pelo menos entre as 50 primeiras.
Para um disco tão chapado, nada melhor que uma overdose de obras-primas. Agora ouvimos “Can’t Your Hear Me Knocking”, com uma letra indo aos raios da marginalidade e sexualidade voraz. A bateria de Charlie Watts mostra enorme segurança e Keith exibe aqui um dos seus riffs mais famosos. E não é só isso. Quando está chegando aos três minutos, a canção abandona o rock para ingressar numa viajante jam, onde o músico Rocky Dijon dá um clima caribenho a musica com suas congas, o sax de Bobby Keys imprime uma parte jazz de respeito e o monstro Mick Taylor roubando a cena com um solo digno de Carlos Santana. Ao se encaminhar para o final, a música funde todos os mundos pelos quais viajou nos seus sete minutos e dezesseis segundos. Presença obrigatória em qualquer lugar onde se fale de música criativa e inovadora.
“You Gotta Move” é puro Delta blues da primeira metade do século 20. Aqui temos a performance minimalista de Charlie Watts no chimbal, os backing-vocals gospel de Mick Taylor, o riff rústico e primitivo das guitarras, e enfim Mick Jagger, esse branco com alma negra, destilando uma safada letra com sotaque de um autêntico negão sulista americano: “Você tem que se mexer, você tem que se mexer, criança, você tem que se mexer...”.
As guitarras nervosas dão o tom dessa música realmente fazer jus ao título obsceno de “Bitch”. O vocal agressivo de Jagger, então, nem se fala. A sessão de sopros por parte de Keys e Jim Price soa mais alta que nunca. Taylor solando mostra o que é rock elétrico e cheio de melanina. A letra indignada fala de todas as decepções amorosas do vocalista, pela sua inconstância na hora de reagir a uma provocação. Uma autêntica aula de aspereza que poucos têm moral para fazer.
“I Got The Blues”. Ninguém tinha mais dúvida disso, mas ainda sei os Stones fazem questão de afirmar. Surge uma balada sofrida, característica perceptível tanto nos acordes espaçados quanto na voz alta e atormentada de Mick Jagger. O baixo de Wyman se pronuncia como nunca aqui, e Billy Preston nos entrega um rasgador solo no órgão. A sessão de sopro de Keys e Price só ajuda a dar mais sentimento a esse tremendo gospel/soul. A letra fala de quando Jagger se separou de Faithfull. Diz que precisará de tempo para esquecer dela, e que “o amor é uma cama cheia de tristeza”. Isso é o que qualquer um com um mínimo de sensibilidade chamaria o que temos aqui de música transbordando emoção.
E falando em Marianne, a mesma dá indiretamente o belo ar de sua graça em “Sister Morphine”, que teve a letra escrita por ela e teve a ajuda de Jagger e Richards para completar a parte musical. Keith Richards mostra habilidade ao violão, junto a Ry Cooder na guitarra bottleneck, somando ao piano de Jack Nitzsche. A pessimista letra é a mais direta de todas sobre o uso de drogas, com versos como “Vamos lá, irmã Morfina/É melhor você fazer a minha cama/Pois você sabe e eu sei/Que de manhã estarei morto”. A música havia sido lançada por Faithfull como single no ano de 1969, mas acabou sendo banida das lojas devido à sua forte temática. Restou a uns certos ingleses o dever de eternizar a canção de uma vez por todas.
Gravada no Alabama, temos agora a canção “Dead Flowers”. Mick Jagger assume o violão, e todos os músicos que tocaram no álbum até agora aparecem todos em seus respectivos instrumentos compondo um melódico rock de refrão inflamado, com a canção inteira falando do relacionamento de Jagger com uma tal de Susie, mas logo se vê que a canção é um tratado sobre drogas, com raiva imensa de ser desprezado pela garota, afirmando que enquanto ela se diverte, “estarei no porão/com uma agulha e uma colher/e outra menina para aliviar minha dor”. E no clássico mau-mocismo Stoniano, o refrão tem toda aquela marra de “se você se acha a fodona, vai sonhando”... Se isso é um clichê? Tudo bem. São um dos criadores que estão utilizando-o.
Chegamos na última canção, em uma das eleitas melhores baladas stonianas. O nome, “Moonlight Mile”. Modificando o arranjo de um fragmento gravado por Richards, Taylor obteve uma sessão de cordas de sonoridade asiática, com Jagger também participando do riff acústico. Assim como muitas das canções dos Stones, tem uma letra uma tanto metafórica e misteriosa, mas parece falar das alienações da vida na estrada.Insatisfação com o próprio show business, resumidamente. Um fim perfeito, recheado de belas melodias, onde já vemos os já cansados Stones entrando em êxtase, enquanto duas agulhas – a da vitrola e da seringa – compartilham espaço nos sentidos do maravilhado ouvinte.
O que dizer, sem cair no clichê? Que isso é um autêntico álbum de Rock And Roll com letras maiúsculas? Que poucas bandas teriam alma, melanina e blues o suficiente para gravar algo do tipo? Que esse é um item indispensável para entender as últimas décadas da música pop? Que se não fosse por discos como esse pelo menos metade das bandas de hoje não teriam onde buscar seu referencial? Para que repetir tudo o que já foi dito? Não há necessidade. A única e real necessidade é ouvir esse disco que periga chapar de tão marginal, insano e junkie, e o melhor de tudo, sem rebordosa nenhuma.
Marcadores: Resenhas
posted by billy shears at 8:37 PM
|

quarta-feira, agosto 01, 2007
The Who - Who's Next
 O The Who sempre pareceu (e foi) uma banda digna de figurar no panteão das bandas preferidas de qualquer um. Tinha Roger Daltrey, que impressionava pelo seu vocal rasgado, másculo e imposto, uma das primeiras vozes nas quais se pensa quando o assunto é rock; tinha os power chords ensandecidos e abrasivos de Pete Townshend; tinha os acordes sólidos, técnicos e rápidos do baixo de John Entwistle; e Keith Moon com sua técnica visceral e impressionante. Não obstante as qualidades musicais eram verdadeiros selvagens enlouquecidos, capazes de beber, cheirar e injetar todas e fazer do palco um lugar a ser devastado. Como Ron Asheton, guitarrista dos lendários Stooges, explicou uma vez, ir a um show do Who era uma experiência de pandemônio total – Daltrey girava o microfone como um helicóptero, Pete estilhaçava a guitarra no chão e depois a jogava contra os espectadores, Entwistle tratava o inferno que o cercava como um templo budista, e Moon fazia pouco caso da sua bateria, furando as peles, arremessando pratos e chimbal longe, chutando o bumbo sabe-se lá onde... Nenhum comprometimento com opiniões conservadoras, o puro espírito rebelde, inconseqüente e primitivo do Rock And Roll.
Sendo uma das poucas bandas sobreviventes da Invasão Britânica - juntos aos Rolling Stones e os Kinks - que assolou os Estados Unidos e conseqüentemente o mundo nos anos 60, o The Who já havia trilhado os caminhos do rock juvenil em “My Generation”, primou pelo experimentalismo em “A Quick One/Happy Jack” e “The Who Sell Out”, consolidou a ópera-rock com o clássico “Tommy” e ensinou o que era um disco ao vivo com “Live At Leeds”. E como no caso dos Stones, a banda não perdeu o fôlego por atravessar o ciclo dos sete anos a qual tantas bandas que fazem sucesso sucumbem. E o primeiro álbum de inéditas da banda dos anos 70 teve a difícil missão de manter o nível de toda essa trajetória meteórica.
E conseguiu. “Who’s Next” tem uma das capas mais insolentes já feitas por uma banda – o quarteto indo embora após urinar em um antigo monumento, com todos da banda ajeitando o zíper das calças. Originalmente, era um projeto de Townshend designado para ser uma ópera-rock futurista intitulada “Lifehouse”, mas após o mesmo quase ter um colapso nervoso, surgiu com o álbum resenhado agora.E como todo bom e clássico disco dos Who, trazia sua pitada de inovação – além de ressurgir como uma banda de rock pesado e de arena, tornando-os dignos rivais do Led Zeppelin, o álbum em questão, combinando guitarras acústicas, sintetizadores, teclados modificados e ecletismo vocal, montando uma coleção única e dinâmica de canções poderosas e marcantes.
O álbum já fascina desde a primeira canção. Aberta por um sintetizador que transmite um clima totalmente futurístico tem início “Baba O’ Riley”, um dos grandes clássicos do rock mundial. Um clássico visionário e à frente do seu tempo, um rock que tem grandes melodias de guitarra, um dos desempenhos mais minimalistas de Keith Moon e uma grande performance de Daltrey, cantando uma letra que fala sobre orgulho juvenil e aceitação, em uma ambientação lírica quase bárbara, que culmina no refrão “Não chore/Não levante seu olhar/É só devastação adolescente”. Essa pré-história futurista ganha contornos eruditos quando surge o solo de violino, fazendo jus ao título que funde os nomes do filósofo Meher Baba e do músico experimental Terry Riley.
“Bargain”, apesar do início calmo, logo se metamorfoseia em uma porrada de respeito, com os power chords de Pete entrando pelo ouvido e logo vir Daltrey alternando vocais rasgados e vocalizações mais emocionadas no momento mais cadenciado da canção. A letra é introspectiva, onde Pete, apesar de inicialmente parecer romântico, conversa com o próprio ego, segundo o próprio – daí vêm versos como “Para te encontrar/Vou afogar um homem não celebrado” que acabam desembocado no refrão “Eu chamaria isso de barganha/A melhor que eu sempre tive”. A bateria de Moon cresce ao final, onde ele mostra toda a sua pegada e força com as baquetas, enquanto a guitarra de Townshend ruge em resposta.
A próxima é “Love Ain’t For Keeping”, uma balada com desafiadoras e ousadas melodias, com palhetadas poderosas das guitarras acústicas repartindo espaço com lindas melodias de guitarra, e o baixo de Entwistle está um monstro sustentando a diferenciada balada. Mas logo se vê uma valiosa lição: amor não deve ser mantido em segredo nem esquecido. Ao final de cada estrofe, onde o amor do eu lírico parece se distanciar do mesmo, ele repete “deite-se ao meu lado/amor não é para guardar”. Mágica.
Toda grande banda tem seu gênio silencioso. Os Beatles tinham Harrison, os Stones tinham Brian Jones, o Who tinha John Entwistle. E agora ouvimos a composição do mesmo, “My Wife”, única do álbum não composta por Townshend. Além de tocar baixo, o mesmo canta e toca piano. Um dos hits imediatos dos shows, a música foi escrita após o mesmo discutir com sua mulher, Alison, daí a letra paranóica, sobre um cara que bebeu demais e se perdeu na vizinhança errada, agora está com medo da mulher vir atrás dele o perseguindo e acusando-o de infidelidade. A mesma achou a música tão bem-humorada que sugeriu que durante a execução da música em concertos, ela entrasse com uma arma de mentira no palco e perseguisse os membros da banda. A música em si é de deixar qualquer um perplexo, com suas progressões antes do refrão e suas vocalizações um tanto debochadas.
“The Song Is Over” é uma das canções mais complexas da história da banda, fazendo desta uma das canções do álbum nunca tocada ao vivo. Uma balada guiada por um belíssimo piano do músico convidado Nicky Hopkins e o vocal de Townshend, e a certo ponto entra a bateria de Moon forte como uma série de chutes no peito, e a canção explode em inúmeras reviravoltas, guitarra, piano e cozinha em belíssimo contraste, enquanto uma triste letra de um amor que chegou ao fim e agora o eu lírico tem vontade de cantar sobre a natureza e para as pessoas livres, tentando esquecer um amor que apenas o feriu. Belíssima em todos os aspectos.
Novamente um belíssimo piano de Nicky, é introduzida ao ouvinte “Gettin’ In Tune”, canção cadenciada onde Daltrey retoma os vocais para cantar sobre estar cansado de falar, falar e falar, querendo mais ação, olhar nos olhos, entrando em sintonia com a pessoa pela qual está apaixonado. O refrão tem grande impacto, com Pete e John fazendo backing vocals para Daltrey enquanto o mesmo vai do mais cristalino ao mais rasgado.
Pete retoma os vocais principais para cantar “Goin’ Mobile”, uma agitada canção com um desempenho fenomenal de Moon, abusando dos pratos que estouram aos tímpanos os vocais ora em falsete ora bem-humorados do guitarrista, e com uma letra glorificando os prazeres da vida enquanto se está dirigindo. O eu lírico vê a decadência da cidade, mas não liga – afinal, ele está dirigindo! Rápida e bem-humorada, a canção tem vários momentos onde os instrumentistas mostram a que vieram ao mundo, fazendo desta a outra música complexa do álbum que o Who nunca tocou ao vivo. É uma pena, pois sua eletricidade e inventividade são de cativar qualquer um.
Qual o fã de Who e do bom rock em geral que nunca ouviu a emocionante e sublime balada “Behind Blue Eyes”? Começando pela voz, instrumento por instrumento vai surgindo em harmonia – as cordas que enchem os ouvidos, o baixo ressonando e melodias etéreas fazendo o ouvinte viajar, e Roger canta “Ninguém sabe como é ser o cara malvado/O cara triste, por trás de olhos azuis/E ninguém sabe como é, ser odiado/E ser destinado a apenas mentir”. Com uma porrada de Keith, a canção vira um heavy-rock dos bons, com Daltrey engrossando a voz, passando por um magnífico solo e retornando à sua parte mais melódica para enfim encerrar-se.
“Won’t Get Fooled Again” fecha com louvor uma seqüência de canções magníficas. Uma epopéia de oito minutos novamente iniciada pelo sintetizador, para que logo entre uma pauleira das boas, com Entwistle parecendo um trem em movimento e a bateria inquieta de Keith Moon soando poderosa aos nossos ouvidos, com uma letra criticando a sociedade e os homens que a comandam, apoiando a revolução e ainda lembrando “Pegarei minha guitarra e tocarei/Igualzinho ontem/Depois eu vou dobrar meus joelhos e rezar/Nós não seremos enganados novamente!”. Piano e guitarras entram em um confronto furioso e mesmerizante, até que sejam interrompidas pelo sintentizador, que é suprimido pela entrada da bateria, e então surge Roger Daltrey escalando todos eles e dando um dos gritos mais primais já gravados, para que a letra então continue. Essa é, indubitavelmente, uma das melhores músicas da carreira dos britânicos, e por conseqüência, da música pop do século 20. Perfeita demais para ser descrita com palavras.
Seria muito fácil afirmar que o The Who é uma banda como poucas – genial, agressiva, inconseqüente, visceral, espontânea e criativa. Com capacidade de criar da batida mais dura até a melodia mais sensível, do berro mais animalesco à impostação mais cheia de feeling. Mas isso não bastaria. Todas essas afirmações não servem de nada se cada acorde não chegar aos ouvidos do ouvinte e deixa-lo fascinado, descobrindo que um dos muitos sinônimos de Rock And Roll se chama The Who. E pedir para que a mídia pare com a emissão de tanto lixo fonográfico... We won’t get fooled again! Marcadores: Resenhas
posted by billy shears at 11:17 PM
|

_______________________________
|